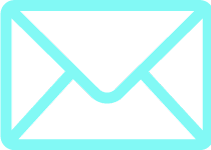Foto: Shutterstock
O final do século 20 foi marcado pela migração da indústria para a Ásia. Houve transferência em massa de fábricas norte-americanas para a China, em busca de custos menores. Estima-se que somente esse gigantesco offshoring, sem contar outros países, envolveu cerca de 500 mil indústrias transferidas. Criaram-se as cadeias globais de valor, em que partes de um mesmo produto são manufaturadas em regiões distintas, ao mesmo tempo que se aprofundou a integração comercial. Foi assim que a Ásia, com a China à frente, tomou a dianteira da produção industrial, dominando redes de fornecimento terceirizadas, concentradas e interdependentes. “Passou-se a priorizar a eficiência com o uso do comércio internacional para a melhor alocação possível de recursos”, afirma Pablo Bittencourt, economista-chefe da FIESC.

Indústria têxtil na China e de chips em Taiwan: Ásia tomou dianteira em vários setores - Fotos: Shutterstock
O sistema dominou a cena até a crise financeira de 2008. De lá para cá o comércio global decaiu e a integração sofreu reveses. Em conflito por hegemonia, Estados Unidos e China ergueram barreiras tarifárias mútuas e adotaram visões mais radicais de segurança nacional. A pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaram por desordenar as cadeias globais de valor, fazendo faltar insumos e mercadorias e elevando preços e custos logísticos a níveis estratosféricos. Escancarou-se a dependência de fornecedores asiáticos para quase tudo, o que levou a uma mudança de percepção dos agentes econômicos. “Isso tudo gerou uma constatação óbvia dos investidores, que passaram a priorizar um reordenamento amigável, confiável e regional das cadeias de produção e de valor”, diz Maria Teresa Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da FIESC.
A nova lógica incorpora conceitos como reindustrialização, autossuficiência e reshoring (volta das indústrias para os países de origem), nearshoring (localização de fábricas em regiões próximas ao consumo) e allyshoring (produção em países “aliados”), todos associados à redução de riscos. O fenômeno impacta profundamente a forma de se fazer negócios, e as empresas com atuação global buscam se posicionar.
“Reconhecemos que os riscos geopolíticos e outros fatores externos podem impactar nossa capacidade de alcançar os objetivos estratégicos, e adotamos uma abordagem proativa para gerenciá-los”, diz o catarinense Guilherme Almeida, presidente da Nidec Global Appliance, empresa com 11 mil funcionários em nove países, dona da Embraco, fornecedora de compressores para refrigeração em todos os continentes. Dentre as iniciativas da companhia estão a busca por fornecedores mais próximos às unidades de produção, o double country sourcing, que é ter fornecedores em ao menos duas regiões diferentes, além de passar a produzir os mesmos modelos em mais de uma região (veja mais detalhes no box).
“Não acho que seja o fim da globalização. O que está havendo é uma reglobalização, se pudermos chamar desta forma”, sugere o também catarinense Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, maior empresa de alimentos do mundo, com mais de 400 plantas industriais em 20 países e faturamento de R$ 375 bilhões em 2022. “Algumas dependências estão sendo revistas. Ninguém mais quer ficar dependente de fornecedores únicos, vão querer ter três ou quatro fornecedores”, diz o executivo.

Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS: “Não é o fim da globalização, está havendo uma ‘reglobalização’. Dependências são revistas, ninguém quer depender de fornecedores únicos” - Foto: Paulo Vitale/Divulgação
Esta visão ficou bastante consolidada durante a pandemia, e a partir de então se intensificou o esforço de reindustrialização em países europeus e nos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir as muitas dependências a que estão submetidos – de chips e smartphones a máscaras cirúrgicas e luvas de borracha. Os Estados Unidos parecem ir mais fundo na estratégia, enquanto a Europa busca posição mais moderada – fala-se em “redução de riscos sem desacoplamento”. A prioridade passa a ser fazer negócios com empresas e países confiáveis.
Essa lógica está na origem do boom industrial por que passa o México, que se tornou uma porta de entrada para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos. Empresas de atuação global, especialmente as asiáticas, que distribuíam produtos “made in China” no país, estão adicionando linhas de produção no México. Já os países da América do Norte procuram aprofundar laços entre si para estabelecer localmente as cadeias de valor mais estratégicas, como por exemplo em tecnologia, o que envolve parcerias em P&D, educação e energia, dentre outras.
Para a indústria brasileira, que viu sua participação reduzida na produção global de 3% nos anos 1980 para apenas 1,3%, é uma oportunidade para elevar as exportações de manufaturados. “Santa Catarina é um estado industrial, com cultura exportadora, possui uma excelente infraestrutura portuária e pode se beneficiar desse processo”, afirma Mario Cezar de Aguiar, presidente da FIESC. “Podemos conquistar novos mercados e atrair empresas complementares às cadeias produtivas já instaladas no Estado.”
Distribuição | Por seu lado a China também busca alternativas para produtos de que depende externamente, como combustíveis e alimentos. Para evitar rotas comerciais que podem ser cortadas por seus agora “inimigos” ocidentais, o país costurou uma aliança estratégica com a Rússia, grande produtora de óleo e gás, que se tornou fornecedora preferencial e grande aliada da China.
No caso dos alimentos a estratégia declarada do gigante asiático, e também da Rússia, é perseguir a autossuficiência de produção para o que consome, ou ao menos a forte redução de dependência. Neste contexto, a JBS não descarta produzir localmente para se manter relevante no mercado asiático, e no momento está investindo na criação de cadeias de distribuição robustas nos principais países consumidores, destacadamente na China, estabelecendo parcerias estratégicas nos setores de varejo alimentar e food service.
“O que está motivando as mudanças na economia global é a falta de confiança. Ao criarmos redes de distribuição estabelecemos relações de confiança, de longo prazo. E quando temos distribuição, a decisão de termos uma fábrica é muito mais natural”, afirma Tomazoni. As unidades industriais da empresa recentemente adquiridas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes já estão inseridas na lógica de produção local para satisfazer exigências de clientes importantes. A empresa também está comprando redes de distribuição na região para fortalecer suas posições comerciais.
Eficiência | Uma das características centrais da formação das cadeias globais de valor nas últimas décadas foi a centralidade da eficiência – os processos se consolidaram nas regiões onde a produção é mais barata e produtiva. A mão de obra barata chinesa carreou para lá a indústria de transformação, processo que se intensificou após o país aderir à Organização Mundial do Comércio, no início do século. Ao incorporar protocolos referentes a temas como dumping e câmbio, a China se tornou um agente confiável para receber investimentos e financiamentos ocidentais, o que foi um motor extra para seu crescimento econômico. “Além disso, políticas industriais bem desenhadas permitiram a incorporação de alta tecnologia e a indústria chegou aos estratos mais elevados das cadeias de valor”, informa Pablo Bittencourt.
Ao enriquecer, a população passou a se alimentar melhor e a Ásia se tornou um grande e constantemente crescente mercado para o agronegócio brasileiro, setor que mais se beneficiou por aqui com a globalização. Além de contar com mercado em expansão, as vantagens comparativas do Brasil na agropecuária – clima, solo e tecnologia – foram determinantes para o sucesso, porém sem que tenha conseguido, com algumas exceções, ultrapassar os limites de fornecimento de commodities com pouca ou nenhuma agregação de valor.
Diante do atual cenário, de acordo com o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina (Sindicarne), a estratégia do setor deve ser a busca por diversificação de mercados para reduzir a dependência de grandes compradores que de uma hora para outra podem interromper os fluxos comerciais. A Ásia absorve atualmente metade das exportações catarinenses de carnes – os outros grandes mercados são o Oriente Médio e a Europa. Ao mesmo tempo, nos principais mercados a estratégia deve ser a de buscar relacionamentos sólidos que estejam de alguma forma blindados das instabilidades. “Alimentos não devem ter fronteiras em um mundo com 1 bilhão de pessoas sem comida no prato”, argumenta José Antônio Ribas Junior, presidente do Sindicarne. “Precisamos estabelecer relações de confiança, alongando relações e sendo parceiros de fato, com contratos de longo prazo em lugar de fornecimentos pontuais”, diz o executivo.
Apesar dos novos riscos e oportunidades, o agronegócio brasileiro já é um player importante no mundo e está bem posicionado para se manter relevante na nova ordem, especialmente se avançar em questões como o meio ambiente, tema crítico para a Europa e também alvo de atenções crescentes de asiáticos. A neutralidade brasileira diante dos conflitos parece pesar a favor de uma maior inserção em mercados diversos. “Se tem um setor em que o Brasil pode ser protagonista no mundo é o de alimentos. É nele que podemos definir as regras do jogo, mas para isso precisamos resolver as nossas questões”, afirma Ribas, referindo-se ao conjunto de entraves a uma maior competitividade internacional.
Mercosul | É fato inegável que o agronegócio brasileiro saiu vencedor na globalização, e pode-se dizer o inverso da indústria de transformação. Nos anos 1980 a indústria brasileira era muito maior do que a chinesa e a sul-coreana, para se ter uma ideia. Atualmente corresponde a uma pequena fração desses parques industriais. A inserção internacional do setor se deteriorou em praticamente todos os mercados em que atuava. O Brasil exportava volumes consideráveis de têxteis, calçados, produtos químicos, revestimentos cerâmicos e automóveis, por exemplo, mas já não exporta mais. A concorrência asiática não perdoou nem mesmo o quintal do Mercosul. A Argentina, historicamente o maior importador de manufaturados brasileiros, passou a importar mais da China em 2021. Isso para não falar do próprio mercado interno do Brasil, que foi capturado por industrializados asiáticos em larga escala.
A nova ordem abre uma porta para recuperação de terreno, mas se engana quem acha que a vida será fácil só por isso. Em primeiro lugar, as oportunidades surgidas com o “cancelamento” de fornecedores asiáticos são acessíveis para as indústrias que já estão preparadas para a inserção internacional. É o caso da Buschle & Lepper, fabricante e distribuidora de produtos químicos com sede em Joinville. Uma das frentes de negócios da companhia é a produção de magnésio extraído da água do mar, processo pelo qual se consegue um produto com grau de pureza mais alto do que o obtido por meio da extração mineral. A qualidade do produto é uma das vantagens competitivas que levou o grupo a buscar a expansão por meio do mercado internacional.
A decisão de construir uma nova indústria de magnésio marinho ao lado da unidade antiga (que posteriormente foi desativada) no município de Barra do Sul, próximo a Joinville, remonta a 2015. A ampliação foi concluída em 2020, o que também modernizou os processos da empresa, que incorporou tecnologias de indústria 4.0, aumentando a gama de produtos – derivações do magnésio são usadas na indústria de alimentos, cosméticos, insumos agrícolas, produtos elétricos e outras, cada uma delas com formulações próprias. Como o mercado interno já está saturado, a expansão, de acordo com o planejamento, deveria ser absorvida pelo mercado externo. “Aí, onde conseguimos relevância é sendo player nas especialidades do magnésio, atendendo a demandas muito específicas”, diz Cristala Buschle, presidente do Conselho de Administração da empresa.

Porto Itapoá, no Norte do Estado: investimentos em ampliação estão em curso - Foto: Divulgação
Cosméticos | O sucesso da empreitada viria com o aumento das exportações em 50%, passando de 20% para 30% da capacidade instalada. A empresa procurou então o programa de internacionalização da FIESC e em 2022 contratou a consultoria IXL, parceira do programa da Federação, com expertise em pesquisa de mercados e criação de valor para a conquista de clientes no exterior. Foram detectadas grandes oportunidades na Europa, por exemplo, onde fabricantes de cosméticos substituem insumos como o hidróxido de alumínio por magnésio em desodorantes, xampus, esfoliantes e outros produtos, em favor da saúde dos consumidores. A legislação europeia também passou a exigir a incorporação de magnésio, uma substância antichamas, em conduítes elétricos. Com produto adequado, tecnologia e volume de produção a companhia estava pronta a ganhar mercado, processo que foi acelerado pela nova geopolítica mundial.
Planejamento | Foi justamente em busca de alternativas a fornecedores chineses de insumos à base de magnésio que um dos maiores distribuidores de produtos químicos da Alemanha chegou à Buschle & Lepper, fechando contrato no início do ano – a empresa prefere não abrir os valores e volumes envolvidos. “Fomos procurados por esse grande player alemão, assim como estamos sendo consultados e visitados por distribuidores da América Latina que nunca haviam nos procurado antes”, conta Márcio Luiz Schissatti, diretor-geral da Buschle & Lepper. Além desses mercados, o objetivo é conquistar novos clientes nos Estados Unidos, onde a empresa já atua.

Instalações da de fornecimento Buschle & Lepper em Barra do Sul: conquista de mercado externo - Foto: Divulgação
Ainda que várias oportunidades pipoquem de modo pontual, resultando em novos contratos de exportações para indústrias de Santa Catarina e de outros estados, muitos desses negócios não serão sustentáveis no longo prazo, por falta de planejamento e competitividade. As oportunidades serão verdadeiramente aproveitadas para quem está investindo em estratégias consistentes de inserção internacional, como a Buschle & Lepper. Mas isso apenas não basta para que o movimento ganhe escala. Para que a inserção internacional da indústria ocorra de fato é necessário elevar a competitividade do País.
“Não adianta pensar de forma isolada”, diz Maria Teresa Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da FIESC. “Só seremos de fato competitivos internacionalmente quando tivermos uma reforma tributária, reforma administrativa, uma política industrial consistente, financiamentos para as exportações e uma integração regional no Mercosul de forma séria, dentre outros fatores”, aponta a executiva.
Ela cita o trabalho realizado pela FIESC junto a órgãos como o consulado dos Estados Unidos, câmara de comércio e embaixada brasileira com o intuito de desenvolver fornecedores catarinenses para substituir asiáticos no mercado norte-americano. Os resultados estão aquém das expectativas justamente pela falta de apoio aos candidatos a exportadores locais, na forma de financiamentos e incentivos às exportações, por exemplo. No mapa do nearshoring, países como o México e nações do Leste Europeu se destacam não só pela proximidade com os principais mercados como também pela maior eficiência. “Estados Unidos e Europa reconhecem a necessidade do nearshoring e nosso potencial como fornecedores, o que já é uma grande coisa”, afirma Bustamante. “Se tivermos apoio do Governo, as portas já estão abertas.”

Maria Teresa Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da FIESC: “Não adianta pensar de forma isolada. Nossa competitividade internacional depende de reforma tributária, política industrial, financiamentos às exportações, integração do Mercosul e outros fatores” - Foto: Edson Junkes/Arquivo FIESC
É aí que entra um dos assuntos mais relevantes atualmente para o futuro da indústria: a criação de uma política industrial consistente no Brasil. O assunto está em pauta em Brasília, sob a liderança do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A publicação em um jornal, em maio, de um longo artigo assinado por Alckmin e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a relevância da indústria para o desenvolvimento e a importância de se criar uma política industrial foi entendida como sinalização de que o tema é prioritário. A consistência das propostas, entretanto, deixou a desejar. Aguarda-se o desenho mais definitivo de uma política industrial até o final do ano.
O tema é um tanto polêmico no Brasil, geralmente associado, com justiça ou não, a privilégios indevidos a setores ou empresas. Ideias liberais na economia foram preponderantes no Ocidente nas últimas décadas, preconizando o baixo intervencionismo para deixar que os mais eficientes sobrevivessem. Até aí tudo bem, mas o problema é que o Brasil não conseguiu criar um ambiente de negócios saudável para as empresas se desenvolverem. Desde então a carga tributária foi elevada, a infraestrutura ficou sucateada e a insegurança jurídica aumentou, tudo combinado a uma abertura comercial nos anos 1990 que, sob o pretexto de conter a inflação, abriu a porteira para importados mais baratos. Provavelmente o liberalismo à brasileira foi a causa principal da desindustrialização precoce do País. A indústria de transformação detinha 24% do PIB nos anos 1980 e hoje tem menos de 10%.
Em contraste, países asiáticos adotaram políticas industriais robustas no período. Além da China, que se tornou o maior parque fabril do mundo, destacam-se diversos países como aqueles que ficaram, no auge da globalização, conhecidos como Tigres Asiáticos. Em recente missão empresarial, diretores da FIESC e um grupo de empresários catarinenses conheceram de perto a Coreia do Sul e Cingapura. Todos ficaram impressionados com o nível de desenvolvimento industrial e tecnológico, a interação entre grupos de pesquisas e universidades com empresas e o grau de planejamento econômico. “O desenvolvimento alcançado é fruto de políticas industriais iniciadas há décadas”, afirma José Eduardo Fiates, diretor de Inovação e Competitividade da FIESC.
Missões | Vale sublinhar que antes de desenhar sua política industrial a Coreia do Sul enviou missões ao Brasil, na década de 1960, para conhecer a política brasileira, extremamente exitosa na época, quando o País vivia seus tempos de milagre econômico. Desde os anos 1930 o Brasil investiu em políticas industriais e graças a elas o desenvolvimento do setor foi muito significativo. Entre 1930 e 1970 o País foi o campeão mundial de crescimento do PIB, de acordo com a CNI, justamente pelo forte impulso de industrialização. Porém, diante de crises, o chamado desenvolvimentismo caiu em desuso não só no Brasil, mas na maior parte dos países ocidentais – os marcos da mudança de chave foram as políticas econômicas liberalizantes de Ronald Reagan nos Estados Unidos (1981-1989) e Margareth Thatcher no Reino Unido (1979-1990).
Agora, diante da desindustrialização ocorrida nos Estados Unidos e Europa e a consequente dependência da Ásia, as maiores economias ocidentais voltam as baterias para um esforço de reindustrialização, aos moldes das demandas do século 21, com destaque para o fomento da inovação, digitalização e descarbonização da economia. China, Japão e Coreia do Sul, por seu lado, seguem mantendo programas robustos de apoio à indústria. De acordo com a CNI, as principais economias mundiais estão empregando mais de US$ 12 trilhões nessas políticas desde o ano de 2015.
Eletroquímica | A restrição fiscal é apenas um dos obstáculos à adoção de incentivos a determinados setores no Brasil. Há temores de que a adoção de visões ultrapassadas da indústria não colabore para uma verdadeira revitalização do setor. A forma como as estratégias serão escolhidas e executadas poderá definir, por exemplo, qual será o grau de inserção da indústria brasileira nas cadeias produtivas de energias limpas e mobilidade elétrica que se conformam rapidamente ao redor do mundo. “O Brasil já perdeu a revolução dos semicondutores por falta de política industrial. Vamos perder também a revolução da eletroquímica?”, questiona Valter Knihs, diretor industrial e de sistemas da WEG.
O executivo se refere à criação de ambiente para a produção local de baterias de íons de lítio para armazenamento de energia, utilizadas em veículos elétricos e em fontes intermitentes de energia, como eólica e solar. A WEG avançou no mercado de baterias de lítio com a construção de uma fábrica de packs em Jaraguá do Sul – ampliando a produção já existente. Os packs são altamente tecnológicos, com sistemas de gerenciamento eletrônico, refrigeração e de segurança para as células de lítio, que são importadas. O mercado a ser atendido por esse projeto é o de ônibus elétricos, cada vez mais adotados nas grandes cidades brasileiras.
O próximo passo neste mercado, que seria o de produção das próprias baterias, depende, de acordo com Knihs, de alguma política governamental que inclua incentivos e financiamentos para o setor e a existência de demanda, por meio de compras governamentais e da criação de regras para o setor elétrico definindo um percentual obrigatório para armazenamento de energia, por exemplo. No Brasil e em países vizinhos já há mineração de lítio e de outros componentes necessários para a produção de baterias. “Podemos ter empresas produzindo células de íons de lítio no Brasil e exportando os produtos acabados”, diz Knihs. Se não houver, o Brasil certamente será um grande exportador dos minerais necessários para a fabricação das baterias em outros países. Eis aí uma escolha de política industrial.

Mineração de lítio e bateria: produção pode ser escolha de política industrial - Fotos: Shutterstock